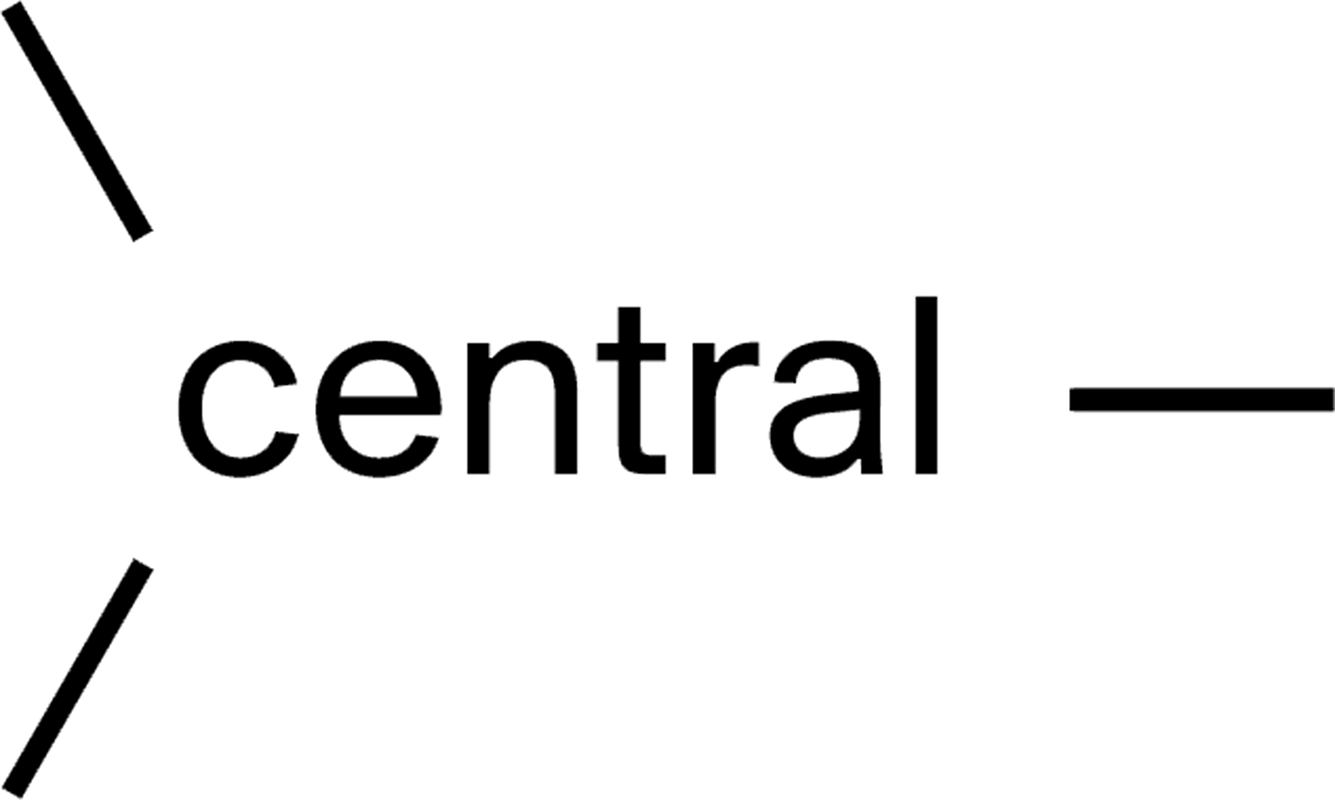clubinho: clube dos artistas e amigos da arte
No subsolo do prédio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, sede São Paulo – onde hoje funciona a Central Galeria – existiu durante quase duas décadas o Clube dos Artistas e Amigos da Arte, o famoso Clubinho. Reunindo nomes incontornáveis das artes visuais, da literatura, da arquitetura e da música brasileira, o CAAA foi, entre os anos 1945 e 1965, um dos principais vetores da efervescência da vida cultural da capital paulista no ápice de sua modernidade. A convite da Central, os pesquisadores Pollyana Quintella e Mariano Marovatto contam pela primeira vez uma história de fôlego – a partir de fontes primárias nunca antes reunidas, entre relatos, depoimentos e matérias de diversos jornais – sobre um dos principais clubes de artistas da história da cidade de São Paulo.
O Clubinho: arte e vida cultural na modernidade paulista
Pollyana Quintella e Mariano Marovatto
Modernismo e o Palacete Santa Helena
Na véspera dos acontecimentos da Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade já avisava aos jornais: “Como Roma primitiva, criada nos cadinhos aventureiros, com o sangue despótico de todos os sem-pátria, São Paulo, cosmopolita e vibrante, presta-se como poucas cidades da América a acompanhar o renovamento anunciado nas artes e nas letras”[1]. Mesmo contendo quase um terço da população do Rio de Janeiro na época, o vaticínio do mestre do Modernismo sobre São Paulo tornou-se inarredável. Depois da Semana, tanto a cidade como as artes brasileiras foram crescentemente adquirindo uma nova e irreversível personalidade.
Nas duas décadas seguintes, porém, mesmo com o advento do Modernismo, São Paulo sofria de uma ausência de espaços institucionais voltados para a arte moderna. As ideias eram sólidas, mas as estruturas para abrigá-las permaneciam em abstração. Exposições realizavam-se em locais bastante heterogêneos e improvisados, desde “entidades culturais, educacionais e de classe até hotéis de alto luxo, casas comerciais, livrarias, estúdios de fotógrafos ou mesmo recintos de lojas e armazéns temporariamente vazios e alugados para esse fim”[2].
Embora os museus voltados para a arte moderna já fizessem parte da política cultural e da paisagem citadina europeia e norte-americana, o Brasil contava apenas com um grupo seleto de entusiastas que só veria o resultado de seus anseios tornar-se realidade no final dos anos 1940, com a criação do MASP, do MAM-SP e do MAM-RJ. Para dar conta do descompasso entre a crescente produção de arte moderna e a escassez de espaços para sua exposição e discussão, iniciativas autônomas, como as associações de artistas, reuniões em espaços privados e outras situações de convivência social, surgiram pouco a pouco.
Correio Paulistano, 1952
É nesse contexto que a década de 1930 acompanha a formação de vários grupos auto-organizados de artistas, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Nesta, então capital federal, é notável a atuação do Núcleo Bernardelli, criado em 1934 em torno do pintor Edson Motta, em oposição ao modelo de ensino da Escola Nacional de Belas Artes. Já São Paulo testemunhava a formação do Clube dos Artistas Modernos, o CAM, e da Sociedade Pró-Arte Moderna, a SPAM, duas experiências basilares, mas de curta duração. Enquanto os membros da SPAM, fundado por Lasar Segall, eram mais afeitos à fase heróica do primeiro modernismo, o CAM, liderado por Flávio de Carvalho, buscava promover atividades mais livres no âmbito das artes.
Também em 1934 surgia, enfim, o grupo Santa Helena, fruto da convivência de alguns artistas, sobretudo os recém-imigrados e de origem italiana. Em um ateliê compartilhado localizado na Praça da Sé – o Palacete Santa Helena –, Francisco Rebolo, Mario Zanini, Fulvio Pennacchi, Alfredo Volpi, entre outros, realizavam seus trabalhos à margem dos círculos da vanguarda. O grupo apresentava uma produção entre o modernismo e a arte acadêmica, sem qualquer esquema programático, logo distanciando-se de uma experimentação mais radical. O modernista de primeira hora e sempre atento Mário de Andrade afirmaria que a principal característica do grupo era o “proletarismo” que lhe “determina[va] a psicologia coletiva e, consequentemente, sua expressão"[3]. Ao final da década, a turma do Palacete foi desfeita da mesma forma que fora criada, sem grandes embaraços. Contudo, uma meia dúzia de seus frequentadores, privados de um espaço de criação e encontro, resolveram dar o primeiro passo em direção à fundação daquilo que viria a ser o Clubinho.
A ideia inicial do núcleo formado por Nelson Nóbrega, Alfredo Volpi, Mario Zanini, Francisco Rebolo, Quirino da Silva e Paulo Rossi Osir foi promover um baile carnavalesco em 1945 para angariar fundos que permitissem o estabelecimento de um novo ponto de encontro. O baile foi realizado no famoso dancing Atelier Bar, na Avenida Ipiranga. “Do ponto de vista financeiro, foi um fracasso. Rendeu a miserinha de mil e duzentos cruzeiros”, recordaria Nóbrega, tempos depois. “Pusemos esse dinheiro no banco e lá o deixamos até tempos depois. Mais tarde, o dinheiro cresceu e instalamos finalmente o clubinho."[4] Graças ao boca-a-boca carnavalesco, no final do ano, mesmo sem ainda qualquer lucro, o clube de artistas tinha cerca de inacreditáveis 120 associados. Por conta do insucesso financeiro, porém, a ideia do Clubinho permaneceu adormecida por dois anos.
A Galeria Itapetininga
Em 1947, Paulo Rossi, que havia investido o dinheiro do baile, e a artista Pola Rezende retomaram as atividades do clube. Em outubro, organizaram uma assembleia nas dependências do Instituto dos Arquitetos do Brasil, àquela altura em atividade no Edifício Esther, marco da arquitetura moderna de São Paulo. De acordo com o crítico Luís Martins, a antiga sede do IAB não passava de “um salão de exposições com um pequeno bar instalado ao canto”[5]. Conta Martins que na reunião um dos sócios, insatisfeito com os rumos da discussão, resolveu levantar-se da mesa e sentar-se solitário no bar. Aos poucos, atraídos pelas garrafas e entediados com a reunião, os demais presentes repetiram o gesto. No final, o bar, que começara a noite como o quartel da oposição, tornou-se a situação, já que a mesa acabou ficando vazia.
Renascido “sob o signo do bar”, no vaticínio de Martins, o Clubinho contava finalmente com um novíssimo quadro diretor. O arquiteto Rino Levi era agora o seu presidente. Sérgio Milliet foi eleito diretor geral e Paulo Rossi seu vice. Pola ficou como nome em destaque do conselho deliberativo. Com o dinheiro da poupança, o grupo finalmente alugou um primeiro espaço para a sua sede: um pedaço da Livraria Roxy, localizada na Galeria Itapetininga, na Avenida São João, e dirigida por Miguel Barros, o “Mulato”. O escritor e crítico de arte Paulo Mendes de Almeida descreveria em detalhes a noite de inauguração:
O Estado de São Paulo, 1959
No dia 17 de junho de 1948, inaugurava o Clubinho a sua sede. <No espaço da livraria> ergueu-se um tabique, circunscrevendo a área destinada à sociedade, espalharam-se alguns móveis, mesas, cadeiras, bancos, instalou-se um pequeno bar, e uma exposição realçou o acontecimento: desenhos de Rossi, Zanini, Volpi, Hilde Weber, Campiglia, Elisabeth Nobiling, Pola Rezende e Germana de Angelis; aquarelas de Rebolo Gonsales e Gerda Brentani.[6]
Pintor de marinhas, paisagens e tipos populares, Barros, dono da Roxy, era natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não alcançou grande prestígio com a obra pictórica, embora tenha sido citado em alguns dicionários de pintura e artes plásticas. Porém, assim como Solano Trindade e Abdias Nascimento, atuou intensamente na década de 1930 nas Frentes Negras brasileiras, tendo colaborado na criação da Frente Negra de Pelotas e da Frente Negra Pernambucana. Ao final da década, Barros começou a expor suas pinturas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, por fim fixando morada na capital paulista. Em concordância com a sua vida de militância, Barros resolveu também assinar suas obras como “Mulato”, sendo uma das raras figuras negras a frequentar a abastada e desde sempre segregadora elite intelectual paulista.
No Centro de São Paulo, Barros foi responsável por um espaço dentro da Galeria Itapetininga. Misto de bar, livraria, ateliê e sala de exposição, o pequeno e multifacetado empreendimento do pintor tinha as qualidades necessárias para agregar artistas e intelectuais interessados em socializar e trazer à pauta os rumos da cultura no país. “É o livreiro mais furtado de todos quantos andaram pelos Brasis afora", dizia o Correio Paulistano sobre Barros, em abril de 1952. Aproveitando-se desse contexto, os sócios do Clubinho surgiram para dividir os custos e o espaço da Roxy, administrando o bar e promovendo reuniões.
Aquele primeiro endereço do Clubinho estava circunscrito ao mesmo quadrilátero onde uma gama de outras galerias já atuavam: a Benedetti, a Rio Branco, a Guatapará, a Itá e a Martin, além da Casa Suíça e da Casa Florestano.[7] Nesse território, entre a Praça da República e o Theatro Municipal, diversos outros espaços culturais também começavam a funcionar, mas com atuação irregular, sem periodicidade. Casas de chá, livrarias, vitrines de lojas, o foyer dos cineteatros e o que mais estivesse disponível eram aos poucos utilizados para a realização de tantas e breves exposições. Nesse miolo, o Clubinho ficou conhecido “por ter tido a vida mais longa entre todas as sociedades artísticas” de São Paulo, afirmaria o crítico e curador Walter Zanini.[8]
No edifício do IAB: a apoteose no subsolo
O acolhimento era grande, mas o espaço dos fundos da Galeria Itapetininga ficou exíguo para tanta gente. Era necessário mudar o endereço e ampliar seu tamanho, mas não para longe do circuito das artes que o próprio Clubinho ajudara a criar. Em abril de 1949, a mudança ocorreu em definitivo para o novíssimo e ainda não totalmente concluído edifício do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Projetado por Rino Levi, o então presidente do clube de artistas, o IAB de São Paulo começou a ser construído em 1947, mesmo ano em que Levi foi eleito pela assembleia do clube. A negociação não demorou e a associação de artistas foi convidada a ocupar, provisoriamente, o segundo andar do edifício, ainda vazio.
Luís Martins, na época ainda casado com Tarsila do Amaral (que curiosamente havia sido eleita a primeira presidente do Clubinho, em 1945), era entusiasta de primeira ordem da associação, mas nem por isso menos crítico a ela. Fazendo coro com Mário de Andrade, Martins, numa série de textos seminais sobre o teor das exposições do Clubinho, não encontrava nelas qualquer ousadia ou experimentação. O crítico reclamava estar “mais ou menos cético sobre as possibilidades renovadoras da pintura moderna” expostas no recinto. Dizia que “os artistas, em sua maioria, começam a se repetir com insistência”. Martins enxergava ainda “vestígios portinarescos” nos trabalhos de Nelson Nóbrega, um Volpi demasiadamente impressionado pelo “primitivismo de Souza”, um Mário Zanini com “visível influência do próprio Volpi”, e assim por diante. Por fim, o escritor fazia uma significativa ressalva. Afirmava que o conjunto da exposição, associado ao espaço do Clubinho, merecia, sim, louvores, “pois foge à regra comum às galerias do mesmo gênero, quase sempre fabulosas vitrines de uma pintura sem significado, sem caráter, sem valor, que nem chega mesmo a atingir o qualificativo de arte”[9]. Se o clube não era arrojado o suficiente para a crítica, o mesmo não se podia falar sobre o seu ambiente, inovador por conta de sua predisposição à espontaneidade.
Junto ao clube, a sede do IAB ocupou quatro andares do edifício: subsolo, térreo, o primeiro e o quarto andares. O restante dos pisos foi destinado a escritórios de arquitetura. Em cada um dos pavimentos pertencentes ao Instituto, ao longo dos anos, foi disposta uma obra de arte: no quarto andar, uma escultura de Bruno Giorgi; no primeiro, um mural de Ubirajara Ribeiro. O térreo foi agraciado com mais um mural, de Antonio Bandeira, e o mezanino contava com um móbile de Alexander Calder, a emblemática Viúva Negra, doada pelo escultor por intermédio de Rino Levi. O Clubinho seria historicamente a primeira presença artística do edifício: mudou-se para lá um mês antes da inauguração oficial da nova sede do IAB.
Diário da Noite, 1951
Se São Paulo cada vez mais se tornava vertical em nome da modernidade, a arquitetura de Rino Levi era uma das grandes responsáveis. Uma série de novas construções surgidas ao longo do século XX na capital paulista, muitas até hoje de pé, foi assinada por Rino e seu escritório, como: o Hotel Excelsior, o prédio da Companhia Seguradora Brasileira, o Teatro Cultura Artística, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil e os edifícios Guarani, Schiesser, Higienópolis, entre outros projetos. Paulista de nascimento, Levi estudou arquitetura em Roma e teve como professor Marcello Piacentini, que se tornaria o arquiteto oficial da Itália fascista de Benito Mussolini. Rino Levi, oposto às ideias políticas de seu mestre, era a favor da arquitetura moderna no Brasil e se distanciava das ideias neoclássicas do estado fascista. Não por acaso, aproximou-se de Roberto Simonsen e com ele colaborou no “projeto industrialista” que buscava suplantar o subdesenvolvimento nacional por meio da iniciativa privada. Os projetos de Rino tornaram-se, para os industriais de São Paulo, a nova cara da modernidade.
Em paralelo à programação cultural no CAAA, ocorriam intermináveis reuniões na casa de Rossi Osir, onde finalmente ficou decidido que o local ideal e definitivo para as atividades do Clubinho seria não no segundo andar do prédio do IAB, mas sim no seu subsolo. No dia 8 de março de 1951, Quirino da Silva anunciava no Diário da Noite que o Clubinho havia enfim conquistado o seu “porão”. Com um “apelo aqui, outro ali, outro acolá e também com o auxílio de algumas reuniões bailescas, conseguiram amontoar respeitáveis cobres que serviram de embasamento ao pagamento da primeira prestação”[10]. Os amigos da arte haviam finalmente adquirido a sua sede. A notícia se espalhou pelos jornais. Nelson Nóbrega explicava ao Correio Paulistano: "Um grupo de artistas e amigos sinceros organizou livros de ouro, promoveu bailes que se tornaram afamados e conseguiu da Assembleia Legislativa a verba de 270.000 cruzeiros para a aquisição da nova sede. Também o casal Francisco Matarazzo Sobrinho entrou com o seu quinhão [65 mil cruzeiros] e eis o clube com algum dinheiro em caixa. Com os caraminguás compramos o porão do IAB, um porão ainda em bruto, que precisava ser trabalhado e adaptado. A adaptação da sede se iniciou, foi pra frente e... o dinheiro acabou"[11].
Ernesto Miller, o tesoureiro, e Rebolo Gonsales resolveram realizar um mutirão artístico. Cada pintor ou escultor deveria doar um trabalho que, uma vez vendido, ajudaria nas obras da nova sede. Além disso, já em 1952, o clube realizou uma festa caipira para arrecadar fundos, contando ainda com um sorteio de um "ótimo terreno situado na Via Anchieta". Para participar, no entanto, era preciso ser convidado por algum sócio, apresentando uma senha na entrada.
Aos poucos, o clube levantou quase dois milhões de cruzeiros. O tesoureiro explicou: “Tantos esforços reuniram mais de um milhão e meio de cruzeiros: 450 mil provenientes de empréstimo da Caixa Econômica, 650 mil de contribuições dos ‘amigos da arte’ – 270 mil de subvenção e 200 mil de contribuições mensais dos sócios”[12].
Rino Levi, presidente do novo “porãozinho” (alcunha carinhosa dada ao subsolo pelo engenheiro e sócio Nelson Ladeira), resolveu promover um concurso de anteprojetos para instalação e decoração da futura sede. No anúncio do jornal, Quirino Silva, fundador e eventual porta-voz do Clubinho na imprensa, afirmou que “muito embora o clube padeça de anemia monetária quase crônica, ainda lhe restam, após minuciosa contagem, vinte mil cruzeiros que serão distribuídos aos artistas mais “debilitados” (que ganharem o concurso, é claro)”[13].
Àquela altura, o novo restaurante que daria lugar ao antigo bar ainda não estava pronto. Faltavam mesas, cadeiras e a infraestrutura adequada para a cozinha, entre outras coisas, mas a programação recomeçava a se desenhar e sua ambição, a reboque das novas dependências, era ir além da conversinha contextualizada no bar. Os jornais foram percebendo a diferença:
O clube dos artistas de amigos da arte resolveu, ao que parece, transformar-se num centro de debates, deixando de ser aquilo a que estava reduzido ultimamente: um barzinho. Tratava-se de uma palestra do doutor Romeu Andrade Lourenção, sobre "A arte e o direito".[14]
Agora com casa própria, posta em funcionamento em junho de 1952, o Clubinho realizaria uma série de debates e palestras sempre em paralelo à boemia de sua assídua clientela. Com auxílio da prefeitura de São Paulo, o clube chegou a oferecer um curso dividido em três módulos: "O barroco no Brasil colonial", "Aspectos psicológicos e psicopáticos do Aleijadinho" e "Características estético-plásticas da obra de Aleijadinho", com diversos professores do quilate de Manuel Bandeira, Lourival Gomes Machado e Vinicius de Moraes.
A nova sede trouxe ao Clubinho, além da programação mais ambiciosa, uma inédita série de responsabilidades, protocolos burocráticos e regras detalhadas de funcionamento. Quirino da Silva lamentou a perda da naturalidade da casa na sua coluna no Diário da Noite:
Não é mais aquele mesmo “clubinho”, despretensioso, simpático, interessante, onde se ouviam as deliciosas piadas do Barão de Itararé: mudou muito… Cuida pouco de arte. Gosta de tango, preferindo sempre a media luz. O clubinho começou a perder a sua cor propriamente artística: é que pessoas inteiramente estranhas à arte e ao espírito boêmio-artístico até então reinante foram aos poucos se infiltrando até aboletarem-se na atual diretoria. E, assim, estabeleceu-se um ambiente de discórdia, que vai também, aos poucos, desencantando e afastando os artistas e os verdadeiros amigos da arte.[15]
A Manchete, 1954
As advertências e as discórdias internas, porém, em nada impediram o crescimento do clube. A grade de cursos e palestras ganhava paulatinamente mais espaço na casa. Naquele ano ainda, 1952, Carvalhal Ribas proferiu sua série de palestras “A arte moderna vista por um psiquiatra”. Em maio, a exposição individual de Rebolo Gonsales serviu de pretexto para a promoção de uma sequência de debates e conferências sobre o Grupo de Santa Helena, atraindo entusiastas e simpatizantes do antigo núcleo do Palacete. Em julho, Flávio de Carvalho também realizou uma palestra sobre a “Expedição Cinematográfica ao Rio Araguaia". Com projeções de aquarelas e exibição de material etnográfico recolhido, Carvalho relatou sua primeira viagem à Amazônia com a comitiva do projeto de documentário “O Grande Desconhecido”, idealizado por Mário Civelli, sobre a relação entre indígenas e europeus.
No entanto, a atração dos notívagos pelo clube era ainda grande. Assim como no caso das exposições e das conferências, a nova estrutura do restaurante ampliou a clientela em perfil e número. Agora não se tratava apenas de sujeitos do meio da arte, mas de gente diversificada, por vezes apenas interessada no bife. Por trás do esforço hercúleo em gerenciar as mesas sempre lotadas e da disputa por um lugar no balcão estava Aldo, o garçom, com seu indefectível bigode fino. Luís Martins, assim como Quirino, sócio e crítico dos rumos do Clubinho, seria o primeiro a citá-lo na imprensa, na sua crônica diária no O Estado de S. Paulo:
Todas as tardes, o exíguo espaço ocupado por poucas mesas e um balcão com tamboretes regurgitava de gente e, para se conseguir um uísque, era necessário fazer fila; fazer fila, ser amigo do Aldo, o barman, ou então ter músculos sólidos e decisão pronta.[16]
Figura querida na casa, Aldo, o “mestre da batida de limão” assumiu com o sócio Osvaldo os serviços do bar e do restaurante, sendo o responsável por manter as barrigas cheias nas noites de bebedeira. Em pouco tempo Aldo tornou-se referência em drinks na noite paulistana. Segundo Paulo Bonfim, o garçom “fazia prodígios para não servir uísque pagão”, ou seja, batizado, sem atingir os preços estratosféricos das demais casas noturnas de São Paulo. “Ali havia o melhor picadinho da cidade (e o mais barato) e o uísque custava quase nada”, diria o habitué e romancista Ignácio de Loyola Brandão décadas depois. “Consultávamos o bolso e podíamos escolher: um uísque ou três Cubas-libres”[17]. O ambiente crescera, mas as fronteiras entre o que era bar, restaurante, espaço expositivo e o improvisado palco para espetáculos, a depender da lotação, eram bastante subjetivas para cada frequentador. Com a implementação de shows no Clubinho, alguns clientes chegaram aos jornais para reclamar da falta de profissionalismo do serviço de atendimento das mesas. Quando se instaurava a meia-luz, sinalizando o início das apresentações musicais, surgia inesperadamente uma pequena multidão de garçons para servir as mesas, bloqueando a vista e irritando o resto do público. Aldo, após o puxão de orelha lido na imprensa, soube receber a crítica e instruiu o resto da equipe a jamais servir qualquer coisa enquanto houvesse alguém cantando no palco. Semanas depois, de forma justa, o famoso barman seria elogiado pela sua atitude. Quirino da Silva tratava do novo approach de Aldo como se fosse um “novo clássico” do badalado clube:
a luz bem velada e os pares a deslizar, de mansinho, bem unidos, pelo salão iam até altas horas da madrugada, isso quando não saía um "sururu". O Aldo, o indispensável Aldo, aproveitava os raros intervalos, a uma tênue claridade, para renovar as doses de uísque, quando não, servia na doce e propositada penumbra.[18]
Por vezes, indo além das confraternizações, o uísque do Aldo era combustível para os ânimos exaltados. Alguns meses antes, ainda em construção, o clubinho viveu uma de suas maiores polêmicas, quando o debate intelectual fragilizou a virilidade do ambiente e deu lugar à violência física.
O grande “sururu” do caso Bienal
O dia era 26 de novembro de 1951. A primeira Bienal de São Paulo havia inaugurado há apenas 36 dias, com representações de 25 países e obras de 729 artistas. Naquela noite, o Clubinho organizava um debate presidido por Flávio de Carvalho, diante de um auditório de artistas, intelectuais, comunistas ou não, além dos desavisados grã-finos. Juntamente com Flávio, integravam a mesa: Paulo Mendes de Almeida, Oswald de Andrade, Marc Berkowitz (então diretor do Clube), José Geraldo Vieira, Vittorio Gobbis, Jamil Almansur e José Cucê. O temário proposto vinha com as seguintes questões: a) Até que ponto a arte abstrata é separada da arte figurativa com assunto? b) Quais os pontos comuns entre elas? c) As manifestações plásticas das crianças e dos loucos devem ou não ser consideradas obras de arte?[19] Curiosamente, ali não estavam presentes Sérgio Milliet, então integrante do júri internacional da Bienal, e Ciccillo Matarazzo, o maior mecenas da instituição discutida.
Pedindo a palavra da plateia, Waldemar Cordeiro, líder do futuro movimento concreto em São Paulo, manifestou o interesse em discutir questões mais... concretas, “como a Bienal e sua significação”. Desrespeitando a organização do evento, Cordeiro, talvez ingenuamente, acabava de implantar uma das maiores confusões já vistas no porãozinho do IAB. O auditório se viu dividido entre aqueles que queriam que o temário original fosse mantido e os que desejavam sua modificação. Luiz Ventura, ainda um jovem artista na casa dos 20 anos, resolveu dirigir-se à mesa endossando a pauta de Cordeiro: “Qual a origem, finalidade e conteúdo da Bienal? Qual a contribuição que a Bienal poderá ter em relação à cultura nacional? Quais as posições que os artistas devem manter em relação a essa e outras exposições semelhantes?”[20].
A mesa manteve-se firme e optou por seguir com o debate, conforme acordado previamente. O burburinho da plateia se intensificou gravemente. Ventura se exaltou: “Peço a palavra. Isto aqui é uma palhaçada e a geração de 1951 não topa os métodos ditatoriais da velha geração de 1922. Quero discutir problemas concretos. Em que regimento se apoiam os srs. para me cassar a palavra?”[21].
A guerra estava declarada. A Bienal, afinal, havia instituído uma nova geração, aos poucos superando as sombras deixadas pelo primeiro modernismo e intensificando o diálogo internacional.[22] Não havia ponto de retorno: ou os veteranos refrescavam o debate ou encarariam de frente a sedição dos novos artistas. Uma ouvinte pediu que Ventura se retirasse. “Fora!”, ela disse. O artista retrucou: “Vim aqui como artista e não como grã-fino. Quero discutir a situação econômica do artista e não essa história de abstracionismo e figurativismo”[23].
Oswald de Andrade, no auge de seus 61 anos, levantou-se da cadeira enquanto decano incontornável do Modernismo, assumindo seu famoso tom jocoso e rude, sempre imperativo, radicalizando de vez o impasse: “Tem que ser esse temário. Quem falar contra o temário apanha!”. O autor de O rei da vela resolveu não esperar a réplica e partiu para cima de Luiz Ventura, 40 anos mais moço. Começou a confusão. Cadeiras voaram. Socos, pontapés, dedo no olho e gritaria. Oswald, sem fôlego, tentou amansar a situação que criara. Interpelou Ventura: “Por que o senhor teima em discutir? Aqui não é lugar pra isso.” O jovem respondeu: “Por que não? Os senhores não fizeram um show em 22? O senhor mesmo não apareceu no Theatro Municipal vestido de fraque vermelho?”. “Não admito piadas”, respondeu o pai da antropofagia. E o jovem arrematou: “O senhor é uma piada desde 1922”[24].
Conservadores ou radicais, eram notáveis os níveis de testosterona que habitavam o clube. Por fim, entre abstração, figuração e Bienais, o importante era vencer o debate até os limites impostos pela virilidade dos brigões. Com as senhoras constrangidas e os ânimos masculinos controlados, o debate seguiu noite adentro já de acordo com a conduta civilizada. No entanto, à meia-noite, à saída do clube, “não eram poucas as pessoas que se queixavam de contusões sofridas durante os turbulentos debates”[25].
Nas semanas seguintes, os jornais noticiaram com fervor o “tempo quente” vivenciado pelo clube, com direito a “cadeiradas e trocadilhos”[26]. A Folha da Noite, o Correio Paulistano e o Cruzeiro se empenhavam em publicar os diálogos dos debatedores presentes. No famigerado episódio residiam todas as complexidades que acompanhariam a história da associação: a predominância masculina de seus integrantes, o conflito paradoxal de classe entre artistas e grã-finos, as fronteiras entre o debate formal e o encontro social. A cultura necessitava de capital para bancá-la e o Clubinho, afinal, refletia os privilégios de uma classe. Ciccillo Matarazzo, que frequentava e apoiava financeiramente o clube, tinha fortuna sólida. Apesar do contexto, foi naquele subsolo que, segundo Aracy Amaral, surgiu “o primeiro questionamento aberto à implementação das bienais”[27].
A Bienal de São Paulo não estava sozinha e vinha na esteira da criação dos museus de arte moderna no Brasil. Dois sócios do Clubinho participaram ativamente da criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, concretizada em 1948: Sérgio Milliet e Rino Levi. Respectivamente diretor e presidente da gestão de 1947 do CAAA (Clube dos Artistas e Amigos da Arte, a sigla oficiosa do nome oficial do Clubinho), participaram da escritura do museu, sendo Levi nomeado Primeiro Secretário e integrante do conselho de administração. O arquiteto vinha de uma trajetória de realce: tinha sido representado na exposição Brazil Builds, organizada pelo MoMA em 1943, mesmo ano em que participou da fundação do IAB de São Paulo. Em 1946, quando Nelson Rockefeller fez a doação de quatorze obras aos futuros museus de arte moderna, Rino Levi intercedeu para que as obras destinadas ao MAM-SP ficassem domiciliadas no IAB, já que o museu não tinha ainda casa própria. Com a persistência do problema da falta de uma sede para o MAM, o IAB também ofereceu um andar de seu novo edifício ao museu, embora sem sucesso. Em paralelo, anos antes, Milliet já trocava correspondências com Nelson Rockefeller e Carleton Sprague Smith, conselheiro do MoMA, discutindo as viabilidades da implementação de um museu moderno no Brasil. Chegou a viajar para os Estados Unidos em 1942, como parte do plano estratégico que almejava aproximar o governo brasileiro do poder americano. O crítico também integrava o quadro do Conselho de Administração da Fundação de Arte Moderna, passo anterior à criação do MAM, sendo um nome de confiança de Ciccillo Matarazzo. Em seguida, foi o nome responsável por publicar o passo a passo da criação da instituição numa série de artigos para O Estado de S. Paulo, mobilizando o público e a imprensa. Não é difícil imaginar dois dos principais colaboradores da criação do Museu de Arte Moderna frequentando juntos as noites descontraídas da primeira sede do clube, ainda na Galeria Itapetininga. Em 1947, ano em que estavam à frente da administração do clubinho, Ciccillo estava viajando longamente pela Europa, o que permitiu aos sócios se dedicar aos detalhes da casa.
No debate público sobre os rumos da modernidade, entretanto, os posicionamentos dos sócios do clube eram diversos e abstrusos. Em 1948, Di Cavalcanti fez uma conferência sobre realismo e abstracionismo no MASP, saindo em defesa da participação do artista na vida social e condenando o “anarquismo modernista” daqueles que se afastam da realidade, os abstratos. Tal afastamento da realidade levaria o artista “ao desespero de uma solidão irreparável”, só agradando “aos refinados que amam a podridão”[28]. O artista, entre outros defensores do realismo, teve a revista Fundamentos como plataforma de veiculação de suas ideias, enquanto o Museu de Arte Moderna e a Bienal de São Paulo se aliavam mais às tendências do abstracionismo. Também Portinari, grande influenciador de Clóvis Graciano e outros artistas ligados à temática social, foi um dos porta-vozes responsáveis por levar adiante o debate público em torno do realismo. Para o pintor, tratava-se de uma arte “mais legível. Uma arte que o povo possa compreender”[29].
Nada disso, porém, foi suficiente para conter as tendências abstracionistas no país. A primeira exposição do MAM, intitulada “Do figurativismo ao abstracionismo”, endossava a abstração. Ao final da exposição, o museu promoveu um debate com a provocação “É a favor ou contra o abstracionismo?” e contou com a participação do sempre presente Luís Martins, que alegou ser o abstracionismo a “arte de fim de cultura”[30].
A primeira Bienal, no entanto, revelou-se um pouco mais complexa. O júri de seleção contava com nomes como Clóvis Graciano e Luís Martins, figuras contrárias ao experimentalismo abstrato, ainda que uma das obras premiadas da edição tenha sido “Unidade tripartida” do suíço Max Bill, abrindo portas para o concretismo brasileiro. Em paralelo, a Bienal também destinava salas especiais a Candido Portinari e Di Cavalcanti, apresentando tendências aparentemente opostas. Para os contrariados, o evento, ainda assim, era fruto de um alinhamento ao imperialismo norte-americano, não representando as urgências sociais do Brasil. Além disso, reforçava os vínculos internacionais em detrimento dos valores locais. São inúmeras as críticas insatisfeitas com o feito de Matarazzo Sobrinho, sobretudo escritas por Fernando Pedreira e Vilanova Artigas para a revista Fundamentos.
O que se expunha, na realidade, é que de todos os críticos que participavam do Clubinho, entre eles Sérgio Milliet, Quirino da Silva, Luís Martins, José Geraldo Vieira e Geraldo Ferraz, nenhum manifestou entusiasmo com a emergência da abstração. Àquela altura, em nível nacional, apenas Mário Pedrosa defendia tal vertente, já em contato com a produção norte-americana. E assim também seria com os artistas que frequentavam o subsolo: ao longo dos anos 1950, enquanto a abstração ganhava mais solidez com grupos e narrativas diversas, pintores como Antonio Gomide, Clóvis Graciano, Di Cavalcanti, entre tantos outros, seguiam apostando na temática social como arma de combate, o que lhes relegou papéis secundários na produção artística da segunda metade do século XX. Com tantos associados, o clube revelava posições díspares, embora prevalecesse o realismo social. Afinal, seria ali que os artistas que viveram seu auge nos anos 20 e 30 seguiriam sendo acolhidos, como foi o caso de Anita Malfatti, que em 1957 realizou no local uma exposição comemorativa dos 40 anos da emblemática mostra de 1917, já com 68 anos de idade.
Aqueles primeiros anos do Clubinho, porém, revelariam-se intimamente vinculados aos impulsos de institucionalização da arte moderna no país. O complexo entrosamento entre artistas, arquitetos e homens do dinheiro aos poucos configurava um cenário mais sólido para as manifestações culturais da capital. Os rumos e as escolhas da associação, no entanto, estariam constantemente em disputa.
Clubinho de música e política
Em 1953, com o sertanista Francisco Brasileiro à frente da presidência, ocorreram alguns imbróglios políticos em relação aos sócios fundadores. Brasileiro propôs de cara um anteprojeto para reavaliação do estatuto do Clube. Entre as medidas havia uma que agradava o sempre arguto Quirino: dar aos seis artistas fundadores, o colunista do Diário da Noite incluído, a função de integrante permanente do Conselho Supremo da associação. A comissão especial do novo estatuto, entretanto, alegou que na ata inaugural, de 1945, havia não somente os seis sócios, mas uma centena de nomes. Chico Brasileiro excluiu a medida sem maiores discussões. A velha guarda do Palacete Santa Helena ficou desgostosa, mas os encontros seguiram. Antes da inauguração da terceira Bienal, o Clube realizou um debate com Jean Cassou, àquela altura então diretor do Museu de Arte de Paris, e Umbro Apollonio, secretário da Bienal de Veneza. Era um modo de simultaneamente estreitar laços sociais e situar seus integrantes nos diálogos internacionais, discutindo o papel e a importância da Bienal, como já haviam feito dois anos antes. Mais à frente, em abril de 1954, os mais chegados organizaram um jantar em homenagem a Pixinguinha, com leilão de discos raros do compositor. Tocando até a alta madrugada, o mestre do chorinho encantou Di Cavalcanti e os demais presentes. Pixinguinha voltaria ainda no ano seguinte, no II Festival da Velha Guarda, iniciativa de Almirante e da Rádio Record, que também traria nomes como João da Baiana, Donga, Salvador e Bororó para o subsolo.
Em 1954, Clóvis Graciano tornou-se presidente e tomou algumas providências. Uma delas foi tornar obrigatória a apresentação da carteirinha de sócio na entrada do clube. Uma norma vista com bons olhos depois dos desarranjos políticos relacionados à gestão anterior: “Uma ótima medida para evitar a entrada e saída de elementos não muito sóbrios”, disse Quirino no jornal[31]. No final de junho o Clubinho anunciou que ficaria fechado por um mês, para receber uma nova pintura e pequenos reparos. Rebolo Gonsales, aproveitando a calmaria do ambiente, resolveu pintar uma das paredes. Temporariamente as atividades da associação ocuparam o sexto andar do edifício, entre julho e agosto.
De volta ao porãozinho, cada vez mais o clube ficava conhecido pelas recepções que promovia para os artistas vindos de fora da capital que por ali passavam para realizar shows e apresentações e participar de exposições. Eram jantares para integrantes de balés e óperas estrangeiras e coquetéis para músicos populares vindos do Nordeste, além de inúmeros brindes que comemoravam os muitos aniversários de seus sócios.
Os shows da casa contavam com nomes inacreditáveis, e em geral também exerciam o papel de angariar fundos para a manutenção do clube, assim como para a quitação da compra do porão. Caymmi, por exemplo, fez ali uma apresentação de canções que precediam suas ainda inéditas “Canções Praieiras”. Na mesma noite, seu amigo José Pancetti expôs um conjunto de pinturas marinhas. A dupla apresentou a São Paulo um pedaço da epistemologia baiana, contra-narrativa essencial aos negócios paulistas, cada vez mais efervescentes.[32] “O clubinho foi a glória!”, chegou a afirmar o compositor baiano, que ficava hospedado na casa de Clóvis Graciano[33]. Dificilmente haveria outros lugares na cidade com um encontro intelectual tão híbrido entre cantores, pintores, pensadores, empresários, economistas e jornalistas. Ali, escondidos no subsolo, muitos nomes da cultura brasileira se reuniam para jogar conversa fora e planejar projetos.
Anos adiante, em 1959, Caymmi fez outro show no local, desta vez com João Gilberto, em razão do encerramento da exposição de Eurydice Bressane. Além dos cantores do litoral brasileiro, o palco do porão era frequentemente ocupado por Inezita Barroso, em noites memoráveis. Inezita cantava, entre seus clássicos, o samba-canção “Ronda”, composto por seu amigo e também sócio do Clubinho Paulo Vanzolini. “De noite eu rondo a cidade / A lhe procurar sem encontrar / No meio de olhares espio nas mesas dos bares / Você não está (...).” Inezita foi a primeira a gravar essa que é talvez a mais celebrada canção paulista, em 1953. Provavelmente os sócios do Clubinho, em alguma noite de festa com Inezita, foram os ouvintes do clássico de Vanzolini. A dama da moda de viola, àquela altura já considerada a melhor cantora de música popular no Brasil, construía a atmosfera ideal para o flerte e os namoricos no subsolo da Rua Bento Freitas, 306. Dizia Vanzolini que a cantora dava shows naquele endereço quase toda noite e, muito sabidamente, corria o chapéu entre os presentes[34]. Inezita era tão querida entre os frequentadores do Clubinho que em 1957, antes de iniciar sua pesquisa folclórica de jeep até a capital do Pará, a famosa “Operação Belém”, recebeu uma grande homenagem de despedida no local.
Naturalmente, outras obras e canções surgiam de encontros espontâneos no Clube. O próprio Paulo Vanzolini, um dos ícones do samba paulista, conta ter composto “Capoeira do Arnaldo” depois de uma provocação feita pelo amigo artista Arnaldo Pedroso Horta. Vendo Carybé, que era de origem argentina, cantar e dançar capoeira no Clubinho, Horta teria dito a Vanzolini: “Você não presta para nada, porque esse gringo chegou aqui cheio de capoeira e você nunca fez nenhuma”. Foi o suficiente para que no dia seguinte a letra do samba estivesse pronta: “Vamo-nos embora, ê ê / Vamo-nos embora, camará / Presse mundo afora, ê ê / Presse mundo afora, camará”.[35]
Vez ou outra, também se apresentavam por ali nomes de vulto como Adoniran Barbosa e Heitor dos Prazeres. E, eventualmente, o clube organizava a “Noite do Desafio”, com repentistas nordestinos como Domingos Faria, do Piauí, e Lourival Bandeira, de Alagoas. Mas a carta marcada era sobretudo Paulo Gontijo de Carvalho, o Poléra, que ali se sentava ao piano, quase diariamente, muitas vezes acompanhado de Inezita. Poléra era irmão do médico e compositor Joubert de Carvalho, autor da imortal marchinha de carnaval “Eu fiz tudo pra você gostar de mim” e de “Maringá”, clássico que ainda ecoava pelas noites paulistanas, embora escrito em 1932. Famoso boêmio dos anos 1950, músico, cantor e compositor sem formação (“compositor de talento, não distingue um fá de um sol”, dizia a Revista Manchete[36]), Paulo também auxiliou o clube em eventos como a I Festa da Música Popular Brasileira, em 1960. Concurso de canções da TV Record, que precedeu os famosos festivais que deram fama a Chico Buarque, Caetano Veloso, Edu Lobo e Elis Regina, a Festa da Música admitia sambas, valsas, maxixes e outros ritmos brasileiros que, com sorte, seriam selecionados entre as 21 canções finalistas. Foram realizadas quatro eliminatórias; duas no Clubinho, supervisionadas por Poléra, e duas no Teatro Record, estas últimas com cobertura da própria emissora de televisão[37].
A música estava presente em praticamente todas as noites do clube, inclusive nas múltiplas homenagens realizadas com certa regularidade naquele subsolo. O crítico Sérgio Milliet era quem frequentemente escrevia os discursos lidos nestas ocasiões. No aniversário de 50 anos de Clóvis Graciano, as palavras do crítico foram lidas pelo escritor José Geraldo Vieira. Aplaudido em alvoroço, o texto dava o tom das amizades construídas pelo clube ao longo daqueles anos:
Nesta vida, Clóvis Graciano, desejamos que você tenha saúde e dinheiro, se possível, dólares. Amizade já as tem de sobra. Quanto ao futuro, à vida futura que esperamos ver você encontrar o mais tarde que puder, não há como preocupar-se com ela. Como Irene boa do Bandeira, você não precisará pedir licença para entrar no céu. E chega de discurso, ergam-se os copos a Clóvis Graciano.[38]
Todas essas manifestações contribuíam para um pronunciado clima de descontração, o que fez do Clube dos Artistas e Amigos da Arte um dos poucos lugares da cidade em que era possível reunir amistosamente pessoas de posições políticas radicalmente distintas. O poeta Paulo Bonfim registrava em seus diários, não sem algum espanto, os diálogos impossíveis que aconteciam entre integralistas e comunistas. Naquelas mesas, era possível encontrar:
Roland Corbisier, Angelo Simões Arruda e Almeida Salles, conversando com Rossini Camargo Guarnieri, Mário Donato, Nabor Cayres de Brito e Afrânio Zuccolotto. Os socialistas Sérgio Buarque de Holanda, Luís Martins e Sérgio Milliet tinham longas prosas com os trotskistas Paulo Emílio Salles Gomes e Cláudio Abramo. Confraternizando com todos eles, os delegados João Leite Sobrinho, Guilherme Pires de Albuquerque e Amoroso Neto[39].
Ao redor das acaloradas discussões, as paredes apresentavam pinturas de Clóvis Graciano, Aldo Bonadei, Fulvio Pennacchi, Di Cavalcanti, Armando Balloni, Aldemir Martins, Vittorio Gobbis, entre outros, por vezes “leiloados em benefício da família de algum preso político ou alguém enfermo”[40]. Ademais, o local era de fácil acesso para jornalistas, já que as redações estavam localizadas no centro da cidade.
Tanta intelectualidade não significava, no entanto, que havia tantas cabeças abertas para abraçar manifestações consideradas dissidentes. Em junho de 1954, na coluna "Ronda", Mattos Pacheco reclamou da presença de uma travesti no local, na ocasião de uma homenagem ao ator francês Jean-Louis Barrault, que passava pela cidade. "Não somos contra tal gênero, numa boite comercial, num teatro. Mas no clubinho, minha gente, o travesti deve ser sistematicamente barrado." Tratava-se de uma apresentação teatral, embora o nome da artista não seja citado. Pacheco reforçou ser contra "em qualquer oportunidade, exibições daquela natureza, num ambiente como o do clubinho"[41].
É verdade que o clube jamais apostaria em situações ou produções muito polêmicas ou mais radicalmente experimentais que pudessem dividir as opiniões entre seus sócios e frequentadores. Era uma casa um tanto cautelosa, manifestando ora ou outra os preconceitos velados de seu grupo. Afinal, suas noites eram regadas a uísque e piano, homenagens musicais, senhoras educadas e intelectuais respeitados; nada que ofendesse os valores tradicionais, apesar da embriaguez sem hora pra acabar e do eventual lança-perfume. No entanto, isso não significa que não houvesse ali outras complexidades e contradições. Havia espaço, por exemplo, para que em outubro de 1956 Flávio de Carvalho apresentasse naquele subsolo o seu new look para a imprensa, a nova moda de verão para o homem, que tanto chocou a burguesia paulistana. O que fazia um cinquentão vestindo saia de pregas, blusa de mangas bufantes, meia arrastão, chapéu de nylon e sandálias de couro andando pelas ruas de São Paulo? Buscava se adequar, enfim, ao clima tropical. Foi neste mesmo ano que o artista iniciou uma série de artigos dedicados à evolução do vestuário, buscando acompanhar as mudanças exigidas pela história. Carvalho projetava hábitos para o futuro, incluindo uma cidade imaginada, a “Cidade do Homem Nu”. Na metrópole futurista, não haveria lugar para casamento, Deus ou propriedade privada, para o choque da moral patriarcal. Sem grande sucesso como gestor do clube, Flávio seria, todavia, um de seus integrantes mais ousados, realizando audácias que por vezes só pareciam bem acolhidas em tempos de carnaval.
Os imperdíveis “Bailes das Quatro Artes”
O “Baile das Quatro Artes” era a grande tradição carnavalesca do Clubinho, aguardado anualmente pela elite cultural paulistana desde 1949. Mal virava o ano, os frequentadores já se perguntavam quem faria a decoração da vez. Para conseguir um ingresso e exibir os modelitos na festa, os interessados deveriam se planejar com antecedência, correndo para reservar mesas na própria sede do clube. A celebração em torno do baile não dizia respeito somente às tradições do Clubinho, mas revelava sobretudo um legado herdado de clubes anteriores da cena artística paulista: o CAM – Clube dos Artistas Modernos e o SPAM – Sociedade Pró-Arte Moderna. No SPAM, os bailes de carnaval eram mais importantes que as próprias exposições. Lasar Segall, artista à frente da agremiação, realizava inúmeros painéis decorativos, que acompanhavam recitais, conferências literárias, números musicais e bailados noite adentro. O famoso baile de 1933, por exemplo, teve como tema “Carnaval na cidade de SPAM” e reproduzia um microcosmo de uma metrópole com circo, presídio, ruas e avenidas, bares e restaurantes, cadeia, jardim zoológico, um hino próprio e até uma moeda inventada, a “spamote”[42]. Neste caso, não se tratava apenas de cenografia, mas de um grande roteiro narrativo que incluía os desfiles e as fantasias. No convite, o público era convidado a representar a “massa popular”, encenando papéis e hierarquias sociais, entre o fetiche e a “consciência de classe”.
Já o CAM, surgido de uma dissidência dentro do SPAM e fundado por Flávio de Carvalho, Carlos Prado, Di Cavalcanti e Antonio Gomide, buscava afastar-se do tom aristocrático daquela agremiação. O Clube dos Artistas Modernos tinha como pretensão ser mais aberto e democrático, embora também cobrasse mensalidade e vendesse ingressos para seus eventos. Seus associados, como os do Clubinho, igualmente propunham um flerte com o comunismo: promoviam palestras sobre a Revolução Russa e a paixão de Trotsky, além de buscar uma aproximação mais clara com o samba e a música popular, difundidos pelo fenômeno do recém-criado rádio. O CAM também realizava animados bailes de carnaval, estendendo a tradição. Além disso, acolhia a produção artística das crianças e dos “loucos”, como os internos do hospital psiquiátrico do Juquery, localizado em Franco da Rocha. Anos depois, no Clubinho, foi notável a receptividade para a produção desses artistas considerados “alienados”, vinculados ao Juquery. Entre 1955 e 1956, a casa recebeu exposições coletivas organizadas pelo médico Osório César, então marido de Tarsila do Amaral, já separada de Luís Martins[43]. César foi um dos pioneiros no Brasil na experimentação das possibilidades terapêuticas da arte com pacientes psiquiátricos. Foi também fundador e diretor da Escola Livre de Artes Plásticas, que funcionou entre meados de 1950 e 1970 no mesmo hospital, contando com professores como Lasar Segall e Maria Leontina. Nas exposições, as obras podiam ser adquiridas pelo público, entre cerâmicas e pinturas. Na segunda exposição, em 1956, Osório César aproveitou a ocasião para apresentar diversas gravações e composições musicais dos pacientes, gerando debates importantes entre os presentes.
Voltando aos anos 1950, o renomado “Baile das Quatro Artes” do Clubinho, curiosamente, acontecia no período de pré-carnaval e, por tradição, desde o episódio na boate Atelier Bar, nunca na própria sede do IAB. Em 1955, por exemplo, o baile aconteceu no Clube Homs, e teve como tema "Pinacoteca Biruta": grandes pinturas da história da arte ocidental deveriam ser interpretadas humoristicamente pelos foliões por meio de suas fantasias. No ano seguinte, em 1956, o baile foi realizado numa grande chácara no Morumbi, arranjada pelo sócio Bebê Amaral. A decoração foi toda preto e branco, e ficou a cargo de Flávio de Carvalho, Clóvis Graciano, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral. Com relação à música, o clube contou com a Escola de Samba do Mestre Durva, além de duas outras orquestras. Os jornais noticiaram com entusiasmo o sucesso de uma festa que correu até às 6 da manhã, ao redor da grande piscina iluminada, com arrecadação de ingressos que rendeu cerca de 6.000 cruzeiros. Naquele ano, estava muito disputado o concurso de melhor fantasia. O vencedor seria agraciado com uma viagem de uma semana para Recife, incluindo festas carnavalescas no passeio, tudo pago pelo clube, com apoio da empresa de turismo Realtur. Em meio à disputa, dois grupos fantasiados animavam a festa: de um lado, os “cavaleiros da Idade Média”; de outro, os "Trogloditas" ou "Homens das Cavernas". Além deles, centauros, romanos com harpas e jogadores de futebol se misturavam no salão.
Foi em 1957, no entanto, que o baile ganhou "proporções inesperadas", segundo os jornais, com participação não só do público de São Paulo, mas de cariocas, argentinos, uruguaios e norte-americanos. Organizada por Pola Rezende, cuja gestão rendeu múltiplos elogios de diversos associados, a folia aconteceu na Casa de Portugal, na rua da Liberdade. Os painéis feitos por Clóvis Graciano apresentavam motivos folclóricos internacionais, embora o maior e mais importante fosse dedicado à macumba, ocupando 7 metros de largura[44]. Durante a noite, o lança-perfume esteve permitido, mas "apenas para a sua finalidade brejeira, de divertimento"[45]. A música seguiu ao cargo da orquestra de Arlindo, e as escolas de samba foram comandadas por ninguém menos que Ataulfo Alves e pelo Mestre Durva.
Em 1958, o baile aconteceu na sede do Clube Athletico Paulistano, com a orquestra "Arlindo e seus 18 pinguins”, contando ainda com a contribuição da "Embaixada do Caracú", com Popó da Cuíca. Para acompanhar elenco tão incrível, a decoração ficou a cargo, mais uma vez, de seu diretor, o pintor Clóvis Graciano, que se inspirou em motivos nacionais para confeccionar amplos painéis decorativos.
No ano seguinte, o baile estava planejado para acontecer no Parque Balneário Hotel Santos. O acordo, no entanto, acabou não indo adiante com o Conselho de Turismo da cidade, e o esperado pré-carnaval do Clubinho quase foi cancelado. A resolução inédita encontrada pela gestão de Clóvis Graciano foi promover uma festa de três dias, pela primeira vez, na própria sede, durante o carnaval. Para se redimir do fiasco em Santos, a diretoria isentou todos os sócios da compra de ingressos, mas a farra não foi assim tão impressionante.
Votos, eleições e presidências
Os sucessos ou fracassos do “Baile das Quatro Artes”, assim como do resto da programação realizada em todos aqueles anos, também estavam intimamente associados às escolhas e ao desempenho das gestões administrativas do clube. Com eleições bianuais desde 1945, o CAAA contou com vários diretores que demonstraram maior ou menor empenho. O processo de eleição era simples e protocolar: no dia da votação, as urnas funcionavam entre 17h e 22h, com mesários associados tomando conta de tudo. Os associados, um a um, depositavam os votos na urna, e cada chapa concorrente indicava um fiscal para acompanhar a apuração, por vezes concorridíssima, que podia ser assistida por todos. Por volta da meia-noite, todo mundo já sabia quem era o novo presidente, o que rendia brindes e música até tarde.
É curioso observar que as eleições de 1956 foram amplamente documentadas pelo Correio Paulistano, que fazia campanha explícita para a chapa "Clubinho mesmo", cujo candidato à presidência era Flávio de Carvalho, com vice-presidência de Pola Rezende. Naquele ano, 254 eleitores compareceram à votação, elegendo a chapa queridinha pelo jornal.
O entusiasmo com a gestão de Carvalho foi sendo substituído pela insatisfação. A nova direção não havia completado nem um mês quando o presidente resolveu colocar um aviso na porta, proibindo a entrada de pessoas estranhas ao séquito habitual do clube, chocando seu público. No mês seguinte, o Clubinho retirou Aldo e Osvaldo do comando do bar e do restaurante, depois de alguns bons anos à frente do negócio. Flávio de Carvalho desejava levar para lá Arthur, barman do Museu de Arte Moderna, buscando se aliar às tendências do momento. Indo além, porém, os administradores do clube implantaram uma grade na entrada do subsolo, de modo a impedir a entrada de estranhos, gerando protesto de vários sócios. Não satisfeitos, aumentaram a mensalidade de 30 para 50 cruzeiros. O Clubinho parecia cada vez mais um “clubinho”, um tanto restrito e exclusivo, hostil a novas parcerias e aproximações.
Com o movimento em decadência, uma das iniciativas de Flávio de Carvalho foi promover um concurso de "Miss Artes Plásticas", durante a comemoração do aniversário do clube, embora a ideia não tenha ido adiante. Em maio de 1956, o clube circulava uma lista entre os frequentadores a fim de recolher contribuições financeiras para adquirir um aparelho de televisão e um projetor de cinema. Dois meses depois, a agremiação realizou uma festa para receber os diretores da Philips do Brasil, ocasião em que recebeu um gigantesco televisor de 21 polegadas, doado pelo então sócio Charles Mansur.
A televisão já havia chegado no Brasil em setembro de 1950, quando Assis Chateaubriand, o magnata das comunicações, trouxe 200 equipamentos dos Estados Unidos para São Paulo, espalhando-os pela cidade. Assim, foi fundada a TV Tupi, primeiro canal da televisão nacional. "Boa noite. Está no ar a televisão do Brasil", dizia a atriz Sonia Maria Dorce, então com seis anos de idade. No entanto, o acesso ainda era restrito em razão dos preços elevados. Seis anos depois, o boom da TV aos poucos se fazia no Brasil, alcançando a marca de 1,5 milhão de aparelhos, além de haver quatro novas emissoras.
Naquela altura, os sócios do Clubinho já manifestavam a vontade de bebericar, bater papo e assistir os programas de televisão no local. A TV seria uma espécie de atração da casa, entre as outras programações. Por fim, em agosto, o aparelho já funcionava todas as noites, trazendo novos associados para a sede. Além disso, algumas das festas do Clubinho começaram a ser transmitidas também pela TV. Uma delas, por exemplo, foi a já mencionada despedida de Inezita Barroso, que contou com a cobertura da TV Record, ao vivo, embora ainda sem cores. O que era íntimo e restrito ao subsolo aos poucos tornava-se imagem difundida Brasil afora.
Outros tipos de entretenimento não deixavam de acontecer no local. No mesmo ano, um mágico francês realizou diversos números de telepatia e mnemotecnia. O artista provou, diante da plateia, ter decorado o conteúdo de uma revista de 98 páginas, além de ser capaz de adivinhar a data de nascimento de vários sócios presentes, entre outras peculiaridades.
Em outubro de 1956, Flávio de Carvalho partiu de viagem para a Europa, com exposições previstas em Roma e Paris. Em sua ausência, Pola Rezende, enquanto vice-presidente, assumiu a gestão do clube. A artista, diferentemente de presidentes anteriores, articulou um amplo apoio da elite paulistana, o que melhorou consideravelmente a qualidade dos eventos promovidos pela associação. Em janeiro de 1957, o Correio Paulistano ressaltou a sua boa administração: "Pola Rezende, na presidência, está tendo iniciativas interessantes; (...) Flávio de Carvalho, preocupadíssimo com o problema da vestimenta do homem do século, não quis ainda reassumir o cargo"[46]. Embora Carvalho já tivesse retornado da Europa, Pola seguia no comando das atividades, realizando o grande Baile das Quatro Artes de 1957. No mesmo ano, em agosto, o clube conseguiu finalmente quitar a compra de sua sede, depois de longos cinco anos, "pagando a escritura e tudo"[47]. Outros eventos diversos também atraíram público e movimento. Em dezembro daquele ano, o Clubinho realizou a Primeira Feira Anual dos Artistas de São Paulo, ocupando a Galeria Califórnia, na rua Barão de Itapetininga, com objetivo de levantar as vendas para o Natal. O local ganhou o nome de "Inferninho dos artistas" e contava com cerca de 60 expositores e mais de 200 trabalhos. Das vendas, 10% iam para a caixinha do clube; havia também rifas, pista de dança e shows. Na inauguração, o prefeito Wladimir de Toledo Piza adquiriu a primeira obra da feira, uma pintura de Clóvis Graciano, no valor de 8.000 cruzeiros. O “inferninho”, por sua vez, funcionava das 19h à 1h da madrugada, com programação de cinema, teatro e música. O júri selecionava os trabalhos de acordo com o que julgava ter se destacado ao longo do ano, e cada artista podia ser representado por conjuntos de cinco a dez obras.
Em menos de um ano, a gestão de Pola já fazia tanto sucesso que a artista chegou a organizar um passeio com churrasco para os sócios do clube, com ônibus lotado partindo da sede em direção à Estância Porto Velho, na Via Dutra. Pola realizou, ainda, pequenas reformas: trouxe novo mobiliário, novas cortinas e um "piso brilhante". Nas paredes em frente ao bar, tratou de expor obras de Clóvis Graciano, Marcelo Grassmann e Irênio Maia. Tudo indica que o Clubinho vivia seu auge.
Alguns protocolos, no entanto, eram consensuais entre as gestões, como destinar a bilheteria dos eventos para ajudar a pagar a sede, além de promover rifas de obras ou realizar concorridos leilões de uísque e conhaque, como na ocasião da despedida do pintor Rebolo Gonsales, de partida para a Europa. Isso não significava, todavia, que os preços da comida fossem elevados. Em 1956, por exemplo, havia opções de menu com dois pratos e sobremesa a 50 cruzeiros e com três pratos com sobremesa a 85 cruzeiros, algo equivalente hoje a 28 e 48 reais, respectivamente. Pouco a pouco, os sócios seriam capazes de adquirir inclusive um novo terreno em junho de 1956, a futura sede de campo, no Vale dos Lagos. Ali, uma área de 5.000 metros quadrados longe do centro urbano seria reservada para a construção de uma versão mais intimista do Clubinho, embora o plano não tenha ido adiante.
Em 1958, a eleição teve chapa única com presidência de Clóvis Graciano e vice-presidência do contista Luiz Lopes Coelho. A abstenção dos sócios foi grande, já que não havia concorrência. Mais uma vez, Clóvis Graciano, que acompanhou o clube desde a sua fundação, estaria à frente de suas escolhas. Naquele ano de poucos movimentos, Graciano foi responsável por organizar uma exposição inusitada: tratava-se de uma mostra de poemas, manuscritos e autografados, com ilustrações originais especialmente feitas para a ocasião. No conjunto, havia poemas de Manuel Bandeira com ilustração de Lívio Abramo, de Dorival Caymmi ilustrado por ele mesmo, de Guilherme de Almeida ilustrado por Djanira, de Jorge Amado ilustrado por Clóvis Graciano, de Sérgio Milliet ilustrado por ele mesmo – no total, 22 duplas de poetas e ilustradores. Cada obra era vendida por 5 mil cruzeiros, mobilizando ampla visitação.
Mas a coisa já não andava tão bem, e a casa já não parecia ter o mesmo fôlego. O ano de 1958, no plano geral, revelava, ao contrário do Clubinho, um Brasil eufórico. Não apenas por conta da construção de uma nova e utópica capital ou de o campeonato mundial de futebol ter sido vencido pela primeira vez pela seleção brasileira, com os pés de um Pelé de 17 anos; nem pelo advento da Bossa Nova, que se tornaria o mais efetivo soft power da cultura brasileira no mundo desde Carmen Miranda. O Plano de Metas de Juscelino Kubitschek criou, com falhas que se tornaram evidentes, as condições ideais para que o país se industrializasse velozmente. Eram “os cinquenta anos em cinco” sendo postos em prática em todas as esferas da sociedade. São Paulo já se tornara o maior parque industrial da América Latina. Era, definitivamente, um momento inédito da cultura e do país que punha vagarosamente o Clubinho para fora de seu protagonismo inicial.
Em 1959, além do fiasco do “Baile das Quatro Artes”, o clube fechava mais uma vez para reformas, sob a direção de Bebê Amaral. Já no fim do ano, a casa tentou retomar o brilho com apresentações de Ruth de Souza, além de realizar as festas de despedida para Aldemir Martins e Marcelo Grassmann, ambos com partida prevista para a Europa.
A década de 1960: aos poucos, o fim de uma era
Para o Clubinho, os anos 60 começaram simbolicamente um pouco antes, no dia 1º de abril de 1959. Foi o último dia de Aldo Chiodi, figura central da história do CAAA, na cidade de São Paulo. Íntimo de todas as estrelas da música, da nata da intelectualidade, dos artistas e escritores modernistas e principal responsável por manter a dose de uísque importado e legítimo por 15 cruzeiros ao longo da década (cerca de inacreditáveis 8 reais nos dias de hoje), Aldo foi convidado por Maurício Fernandes para trabalhar no Brasília Palace Hotel na recém-construída nova capital do Brasil. Os amigos do Clubinho apostaram que ele não aguentaria muito tempo em Brasília, longe da noite paulistana. Mas o mais famoso barman de São Paulo nunca voltou. Enquanto administrador do Brasília Palace, Aldo tinha uma sala própria aonde, de vez em quando, o presidente Juscelino Kubitschek ia sorrateiramente almoçar em paz o seu prato predileto: lombinho com tutu.
O escritor Mário Donato assumiu a presidência em 1960, tendo como vice Alfredo Volpi, e mais uma vez o Clubinho realizou uma série de reformas estruturais. A primeira delas foi a reforma do palco. Para o restaurante foi contratada Dona Maria, que o comandaria pelos anos seguintes. O quibebe de carne seca e a feijoada do Clubinho seriam os novos carros chefe da cozinha da casa. Ainda no primeiro ano de gestão, tendo Clóvis Graciano e Flávio de Carvalho entre seus conselheiros, Mário convocou os seis artistas fundadores da casa para montar uma retrospectiva com suas obras. A exibição ficou aberta ao público até o último dia do ano. A finissage trouxe o ano novo e novas perspectivas para os rumos das artes no porãozinho.
Em 1961, o clube elegeu uma comissão formada por Lívio Abramo, Mário Zanini, Oswald de Andrade Filho, Saverio Castellani e Waldemar Cordeiro. Seu objetivo era fazer do Clubinho novamente uma galeria de arte. A expografia foi responsabilidade de Luiz Sacilotto e Vilanova Artigas. No calendário criado pela comissão, entre outras exposições, teve destaque na imprensa a coletiva composta por Di Cavalcanti, Portinari, Tarsila do Amaral, Manabu Mabe, Clóvis Graciano, Alfredo Volpi, Samson Flexor, entre outros, reforçando o compromisso estético com as produções artísticas brasileiras que atingiram sua apoteose nos anos 1940. Os esforços eram vários, porém o Clubinho parecia ter perdido o seu viço.
Aproximavam-se os 20 anos de sua existência e uma forte propaganda se desencadeou nos jornais, mais uma vez a favor da chapa dupla para a presidência do clube: João Leite Sobrinho e Flávio de Carvalho. “Somente essa dupla é capaz de ressuscitar o velho Clubinho”, dizia o Correio da Manhã no início de 1965. Rubem Braga, na sua coluna no Jornal do Brasil, em 16 de março, também pressionava:
Não tenho direito a voto, e sapo de fora não toma tabaco. Mas não sou sapo tão de fora assim pois frequento o Clubinho desde os bons tempos da Rua Barão de Itapetininga e acho que até já fui sócio. Estou certo que João Leite, com sua inteligência, seu bom senso, seu cavalheirismo, sua paciência, sua isenção, sua autoridade e sua cordialidade será um grande presidente do Clubinho. Acho que ele já ganhou. E espero, na próxima vez que for a São Paulo, ir ao Clubinho lhe cobrar, em moeda escocesa líquida, esta nota de propaganda eleitoral.
A boemia, principal cabo eleitoral da gestão de João Leite, tendo Flávio de Carvalho a seu lado, festejou. Rubem Braga deve ter ganhado mais de uma dose da moeda escocesa líquida quando pôs os pés no Clubinho depois das eleições. Entretanto, a primeira medida do presidente Leite Sobrinho soou bastante nepotista: uma exposição de retratos de seu vice, Flávio de Carvalho.
Em 1966 o já famoso baile pré-carnavalesco da associação escolheu curiosamente como tema a Pop Art. Mais uma vez, o carnaval afirmava-se, sintomaticamente, como o evento mais vanguardista das festividades anuais do clube.
No entanto, o Clubinho, mesmo mantendo a rédeas curtas o seu compromisso metódico em relação à manutenção das artes visuais brasileiras, afirmou-se, consequentemente, mais atilado enquanto ponto de encontro informal da boemia artística brasileira. Foi evidente, na segunda metade da década, o intercâmbio entre os frequentadores do porão do IAB e os frequentadores do novíssimo Antonio’s, pequeno restaurante do Rio de Janeiro, a duas quadras da praia do Leblon, que nasceu já sendo o clube informal por excelência da elite carioca. Nomes como Di Cavalcanti, Carlinhos Oliveira, Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos, por exemplo, frequentavam religiosamente os dois lugares, sentindo-se em casa nas duas cidades. Entre 1967 e 1969, selados pelo “signo do bar”, os dois estabelecimentos tornaram-se a ponte aérea de parte da boemia brasileira. Leite Sobrinho, satisfeito, recolheu-se em seguida à diretoria do clube. O país testemunhava uma voragem de acontecimentos políticos e culturais naquele biênio. A partir do dia 13 de setembro de 1968, não somente os sócios do Clubinho, mas toda a sociedade brasileira não mais teria o mesmo semblante eufórico e esperançoso que mantinham nos anos anteriores.
No dia 1º de maio de 1969, bem no horário do almoço, a frequência do Clubinho assumiu um caráter bastante discrepante. O senhor Paulo Maluf, recém nomeado prefeito de São Paulo pelo então presidente da república, Arthur da Costa e Silva (que cinco meses antes havia assinado o AI-5), desceu ao subsolo em companhia do governador Abreu Sodré, atrás da famosa feijoada de Dona Maria. Depois de uma manhã de cerimônias em torno do dia internacional do trabalho no Palácio dos Bandeirantes, os dois nomes mais poderosos do poder Executivo de São Paulo permaneceram no Clubinho até as 17h,aproveitando o resto do feriado. O ano seria triste. Cinco meses depois, em outubro de 1969, decidiu-se pelo fim da era do Clubinho no subsolo do IAB. Em assembleia, na qual a proibição de uísque foi estrategicamente planejada de modo a evitar ânimos alcoolicamente exaltados, foi decidido que a associação tomaria conta do espaço da velha boate Oásis, no Edifício Esther, a cinco minutos dali. Curiosamente, a Oásis havia se instalado no Esther justamente com a saída da antiga sede do IAB de lá, em 1949. Foi também no Esther que em 1947 o Clubinho afirmou-se na paisagem noturna na cidade de São Paulo, por conta da assembleia que elegeu Rino Levi como seu presidente. O CAAA resistiu ainda a algumas ressurreições ao longo da década seguinte, perdidas no escaninho da história; testemunhou o fim da ditadura; e finalmente chegou aos anos 1980, quando o jornalista e crítico de cinema, Francisco Luiz de Almeida Salles, transferiu finalmente simbolicamente a sede para o Barzinho do Museu de Arte Moderna, na Avenida São Luiz. Lá, um novo grupo de artistas e intelectuais, entre outras ocupações, ditaria outra boemia, uma outra história possível da vida cultural de São Paulo.
O Clube dos Artistas e Amigos da Arte viveu o seu auge entre o final da década de 1940 e o estertores dos anos 1950. Neste curto período, os integrantes de diversos “modernismos”, pouco a pouco envelhecendo, encontravam vozes afins e uma rede de sociabilidade comum na mutante capital paulista. Para aqueles tantos e diferentes sócios, a arte, além de elemento de distinção social, era um código partilhado coletivamente, que orientava noites de divertimento, não sem espaço para sérias discussões sobre os rumos da cultura, da política e do país. Daquelas conversas saíram músicas, murais pintados, bailes, viagens, museus e acirrados debates intelectuais. Boêmio, contraditório, afetivo, múltiplo, o Clubinho se configura como um dos importantes bastidores da história da modernidade no Brasil, a qual esse texto serve apenas como preâmbulo.
Mariano Marovatto é escritor, cantor, compositor e pesquisador
Pollyana Quintella é escritora, curadora e pesquisadora
[1] BOAVENTURA, Maria Eugenia (org.). 22 por 22: a semana de arte moderna vista pelos seus contemporâneos. São Paulo: Edusp, 2000.
[2] ZANINI, Walter. A arte no Brasil nas décadas de 1930-40: O Grupo Santa Helena. São Paulo: Edusp, 1991.
[3] ANDRADE, Mário. Ensaio sobre Clovis Graciano. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 10. São Paulo: USP, 1971.
[4] “Tem nova sede o clube de artistas e amigos da arte de São Paulo”. Correio Paulistano, 20 de abril de 1952.
[5] MARTINS, Luís. O Clubinho. 5 de julho de 1952. In: Luis Martins: um cronista de arte em São Paulo nos anos 1940. MARTINS, Ana Luisa; SILVA, José Armando Pereira (org.).São Paulo: MAM-SP, 2009.
[6] ALMEIDA, Paulo Mendes. “O Clubinho e os 19”. O Estado de São Paulo, 1959.
[7] NASCIMENTO, Ana Paula. MAM: museu para a metrópole. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Curso de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
[8] ZANINI, Walter. A arte no Brasil nas décadas de 1930-40: O Grupo Santa Helena. São Paulo: Edusp, 1991.
[9] MARTINS, Luis. “A exposição na Galeria Itapetininga”. 5 de maio de 1945. In: Luis Martins: um cronista de arte em São Paulo nos anos 1940. MARTINS, Ana Luisa; SILVA, José Armando Pereira (org.).São Paulo: MAM-SP, 2009.
[10] SILVA, Quirino da. “O porão do Clubinho”. Diário da Noite, 8 de março de 1951.
[11] “Tem nova sede o clube de artistas e amigos da arte de São Paulo”. Correio Paulistano, 20 de abril de 1952.
[12] “Tem nova sede o clube de artistas e amigos da arte de São Paulo”. Correio Paulistano. 20 de abril de 1952.
[13] Diário da Noite, 28 de março de 1951.
[14] Correio Paulistano, 3 de dezembro de 1951.
[15] SILVA, Quirino da. “O Clubinho”. Diário da Noite, 24 de junho de 1953.
[16] MARTINS, Luis. O Clubinho. 4 de junho de 1952. In: Luis Martins: um cronista de arte em São Paulo nos anos 1940. MARTINS, Ana Luisa; SILVA, José Armando Pereira (org.).São Paulo: MAM-SP, 2009.
[17] BRANDÃO, Ignácio de Loyola. “A aventura de Djanira na garupa da moto de Rebolo”. O Estado de S. Paulo, 18 de março de 2016.
[18] SILVA, Quirino da. Diário da Noite, 17 de novembro de 1952.
[19] BERKOWITZ, Marc. “Tempo quente no Clube dos Artistas”. O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1951.
[20] MARTINS, Ibiapaba. “Cadeiradas e trocadilhos no Clube dos Artistas: agitados e exaltados os debates sobre a primeira Bienal”. Correio Paulistano, dezembro de 1951.
[21] Idem, ibidem.
[22] Murilo Mendes, no Diário Carioca, em 11 de novembro de 1951, dava o tom de entusiasmo com o evento: "O homem que pôs de pé a Bienal merece o vivo aplauso e o respeito de todos nós. Repito agora o que lhe afirmei pessoalmente na hora da inauguração: a Bienal é obra de doidos. Doidos especialíssimos que precisam ser seguidos e imitados, Ciccillo Matarazzo e seus colaboradores diretos restituem-nos a confiança na capacidade de realização dos brasileiros”.
[23] MARTINS, Ibiapaba. “Cadeiradas e trocadilhos no Clube dos Artistas: agitados e exaltados os debates sobre a primeira Bienal”. Correio Paulistano, dezembro de 1951.
[24] Idem, ibidem.
[25] ONAGA, Hideo. “Tumulto no Clube dos Artistas por causa do abstracionismo”. Folha da Noite, dezembro de 1951.
[26] MARTINS, Ibiapaba. op. cit. (item 23).
[27] AMARAL, Aracy. Arte para quê?: a preocupação social na arte brasileira 1930-1970. São Paulo: Editora Nobel, 1987.
[28] DI CAVALCANTI. Realismo e Abstracionismo. In: Revista Fundamentos. n. 3. São Paulo, 6 de agosto de 1948.
[29] PORTINARI, Candido. A todos os Joaquins do Brasil. In: Revista Joaquim. n. 20. Curitiba. 20 de outubro de 1948.
[30] MARTINS, Ibiapaba. “Notas da Arte: é a favor ou contra o abstracionismo?” Correio Paulistano. São Paulo, 27 de abril de 1949.
[31] SILVA, Quirino da. Correio Paulistano, 19 de junho de 1954.
[32] Entre as décadas de 40 e 50, a população da capital paulista aumentou cerca de 65%. São Paulo, em pleno crescimento, estava bem perto de alcançar o Rio de Janeiro, ainda maior cidade do país.
[33] Dorival Caymmi.. In: CAYMMI, Stella. O mar e o tempo. Rio de Janeiro: Editora 34, 2001.
[34] MARKUN, Paulo (org). O Melhor do Roda Viva. São Paulo: Editora Conex Cultura, 2005
[35] Ibidem.
[36] “Os donos da Noite Paulistana”. A Manchete. Rio de Janeiro, 1954.
[37] MELLO, Zuza Homem de. A Era dos Festivais – Uma Parábola. São Paulo: Editora 34, 2003.
[38] “Festejado no Clubinho o 50 aniversário de Clóvis Graciano”, Correio Paulistano, 31 de janeiro de 1957.
[39] MARTINS, Ana Luiza. Insólita Metrópole: São Paulo nas crônicas de Paulo Bomfim. Cotia: Editora Ateliê, 2013.
[40] Ibid, ibidem.
[41] PACHECO, Mattos. “Ronda”. Diário da Noite, 8 de junho de 1954.
[42]FILHO, Fernando Antonio Pinheiro. Lasar Segall e as festas da SPAM. In: Tempo Social,16(1), 2004.
[43] Antes do Clubinho, naqueles anos, era também o MASP que recebia exposições organizadas por César com esse material, uma em 1948, outra em 1954.
[44] Depois da festa, os painéis do artista ficariam ainda disponíveis para outros bailes de carnaval da cidade, antes de serem vendidos, com renda convertida para o clube.
[45] "Foi o baile das quatro artes o grande acontecimento pré-carnavalesco do ano". Correio Paulistano, 23 de fevereiro de 1957.
[46] “Baile das 4 artes: o pré-carnavalesco de 57”. Correio Paulistano, 6 de fevereiro de 1957.
[47] “Pola Rezende será homenageada”. Correio Paulistano, 14 de agosto de 1957.