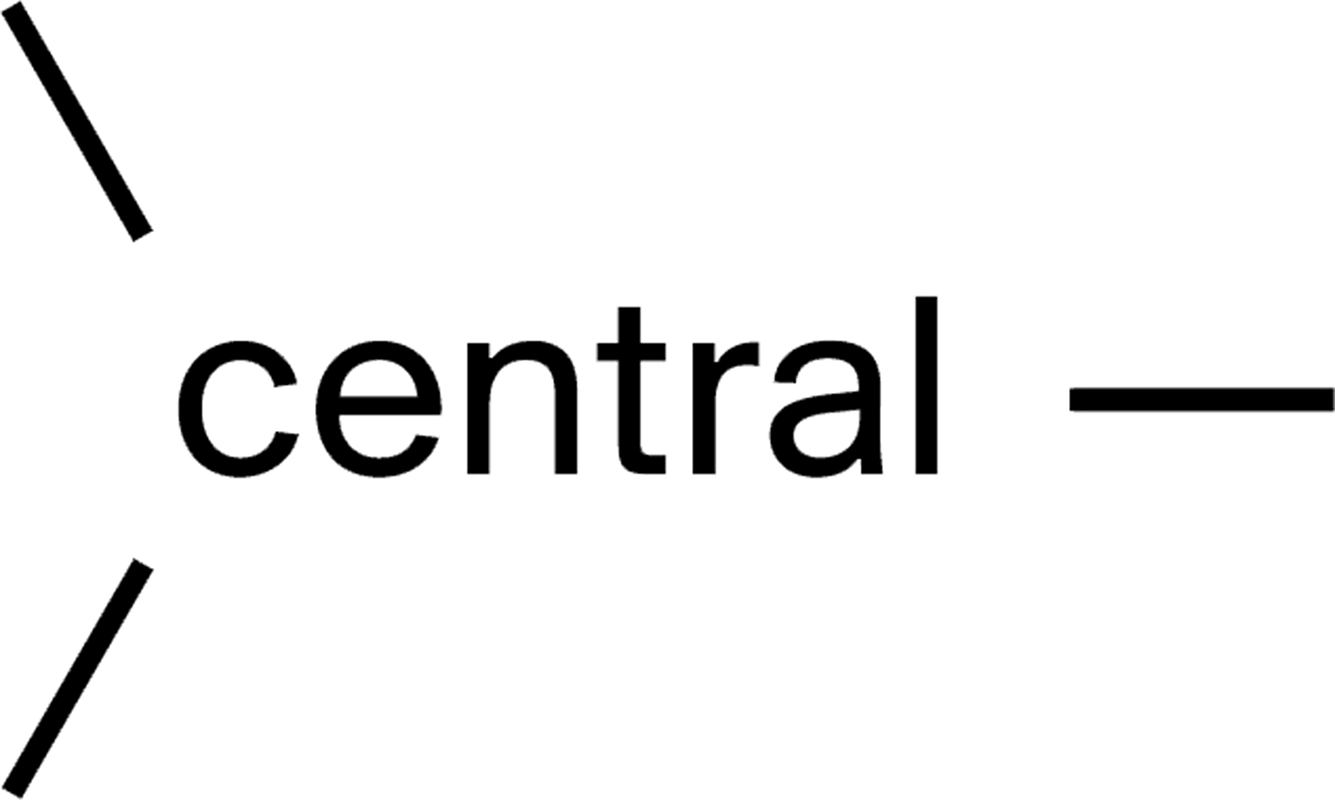02 abr – 21 mai 2022
curadoria marisa flórido
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar Sombras sem figura, a segunda exposição individual de Simone Cupello na galeria. Com curadoria de Marisa Flórido, a mostra reúne obras recentes – produzidas ao longo da pandemia e em parte influenciadas por ela – que refletem sobre o tempo e o estatuto da imagem.
Como é recorrente na prática da artista, um grande acervo de fotografias analógicas coletado ao longo de anos é empregado em trabalhos com características escultóricas e instalativas. Esse uso não convencional do material fotográfico aponta para temas basilares de sua poética, na qual a artista está mais interessada na imagem como prática humana do que enquanto mídia em si. "Simone Cupello debruça-se, pela fotografia, à investigação da imagem: seu estatuto difícil, sua indeterminação constitutiva, os lugares e o movimentos de sua aparição e desaparição, os códigos de enquadramento e os dispositivos que determinam os regimes de visibilidade, que moldam as subjetividades, que codificam vida e arte", analisa a curadora Marisa Flórido.
Ainda que a figura humana não apareça de forma ostensiva, ela é evocada ao longo de toda a exposição, sugerindo histórias de pessoas que se apagaram com o tempo. Lápides, fragmentos e vazios também são elementos que se repetem para indicar ausências. "De fato, tenho a sensação que alguma coisa importante mudou nos últimos tempos", reflete Simone. "Acho que não iremos mais nos relacionar como antes, que a tal 'ruptura comportamental' via tecnologia, que tanto temíamos e prevíamos há décadas, foi finalmente consolidada. Estamos partidos, mais além das divisões de classe. Minhas fotos parecem pertencer a um outro momento da vida, viraram vestígio".
Simone Cupello nasceu em Niterói, 1962. Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Graduada em Arquitetura (1986) e com uma extensa carreira com cenografia, TV e cinema, desenvolve desde 2013 sua pesquisa como artista visual. Já realizou exposições individuais em: Central Galeria (São Paulo, 2018), Centro Cultural Cândido Mendes (Rio de Janeiro, 2017), Centro Cultural Justiça Federal (Rio de Janeiro, 2016), entre outras. Entre suas exposições coletivas recentes, destacam-se: Arte Londrina 7, Casa de Cultura da UEL (Paraná, 2019); 43° SARP, Museu de Arte Ribeirão Preto (Ribeirão Preto, 2018); MONU - A Arte Delas, Marina da Glória (Rio de Janeiro, 2018); Frestas - Trienal de Artes, Sesc Sorocaba (Sorocaba, 2017); Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas (mostra itinerante, 2015-2016); Fotos Contam Fatos, Galeria Vermelho (São Paulo, 2015). Sua obra está presente nas coleções do MAR (Rio de Janeiro) e do FAMA (Itu).
-
Dar corpo à sombra
Não há sombra sem corpo. Um signo indicial, segundo Charles Peirce, que depende de uma contiguidade física, um toque, um contato. Nas fábulas de origem das imagens da arte, ali está: no contorno da mão sobre a parede da gruta pré-histórica, no mito da filha do oleiro de Corinto narrada por Plínio Velho, que veria nele a invenção da pintura. Apaixonada por um jovem que partiria em viagem, a filha de Dibutades desenharia na parede o contorno de sua sombra. Conjuração da ausência do ser amado; fixação do traço de sua presença ausente, de sua ausência presente. Seria a imagem uma trama de desejo e medo, de memória e artifício, indissociável da morte e do desaparecimento? A jovem apaixonada é atravessada pela sombra cujo reino, já entre os gregos, era o mundo dos mortos.
Como a sombra, a fotografia (analógica) seria considerada também um índice por Peirce e assim abordada em muitas de suas clássicas teorias. A “grafia da luz” deixa um rastro, um vestígio, um corpo tanto matérico como espectral. Se as imagens acontecem entre nós, que as olhamos, e os meios pelos quais respondem o nosso olhar, o meio fotográfico é uma dessas instâncias em que se manifesta a presença do ausente e se reitera a estranha materialidade do corpo perdido no corpo visual da imagem. Mas ocorre que o processo da fotografia analógica encerra a própria morte no movimento da luz: se para retratar algo é necessário que este algo irradie para imprimir na película fotossensível suas emanações luminosas, para fazer aparecer a imagem é preciso que a luz, por um momento, desapareça para se revelar na câmera escura. É o paradoxo da alquimia fotográfica, diria Philippe Dubois: “o corpo fotográfico nasce e morre pela luz” [O ato fotográfico, 1990, p. 221]. A sombra apanha a imagem fotográfica de sua teia de luz, em uma fantasmagoria que perturbaria a concepção da fotografia como imagem objetiva do real. A imagem só é capaz de emergir no limite de seu próprio apagamento: eis sua condição de existência.
Talvez nunca antes as imagens tenham penetrado tão vertiginosamente nosso cotidiano, nossa sensibilidade, mediando a vida social e política. As imagens estão entre nós, ou nós estamos entre elas, com sua potência e seus fantasmas, com sua ambivalência e os usos que são feitos delas. Nas últimas décadas, com as novas tecnologias digitais de produção, circulação e exposição das imagens numéricas, turvou-se ainda mais a fronteira entre quem produz e recebe as imagens e aquilo que é mostrado, visto e vivido. Se a imagem era o rastro na fotografia analógica, na digital ela é a conversão em um código algorítmico. A transformação dos dispositivos técnico-midiáticos do capitalismo financeiro desloca também as relações entre visibilidade e subjetivação. Na internet, imagens e rastros deixados nas redes são convertidos em dados: gostos, sensibilidades, comportamentos – tudo se transforma em código classificado, arquivado, vendido. Monetarizam-se radicalmente imagem e palavra; sentido e valor são funções político-financeiras em estranha fantasmagoria incorpórea.
O olho de controle e vigilância se torna mais espectral e disseminado: todos vigiam todos, das grandes potências políticas ou empresariais ao vizinho ao lado. Esse maquinário capilarizado, que produz e exibe imagens (sejam analógicas, sejam digitais), estrutura o campo do possível, programa padrões cognitivos e hábitos culturais, molda as sensibilidades e os afetos sociais, configura as formas de ver e os modos de vida. Constrói mundos, portanto.
Entre as imagens-sonhos (que nossa imaginação produz) e os dispositivos (que das imagens se apropriam), entre rastros e espectros, qual seria então o estatuto da imagem hoje? O reino da imagem – e sua sedução – sempre sofreu dessa dupla desconfiança, ser sombra e impressão: insuficientes para mostrar algo que é da ordem do excesso (como a face do Deus ou o Shoah) ou enganadoras, que aprisionam o olhar e nos desrealizam em um mundo incorpóreo de sombras e ilusão (Platão, Debord).
Simone Cupello debruça-se, pela fotografia, sobre a investigação da imagem – seu estatuto difícil, sua indeterminação constitutiva, os lugares e o movimentos de sua aparição e desaparição. Por isso inquire as condições das visibilidades operantes: os sistemas de enquadramento e os regimes que organizam o visível, que moldam as subjetividades, que codificam vida e arte – a maquinaria do olhar estabelecida pelo aparelho fotográfico e pelos dispositivos de imagem, cuja grande estratégia é permanecer na sombra, ocultando sua mediação para que acreditemos nos relacionar diretamente com o mundo.
Subverter os jogos de ocultamento, revelação e reflexividade dos dispositivos do universo das imagens técnicas seria, para Simone Cupello, devolver a carne à imagem, operar no intervalo entre o visível e o invisível, a aparição e a desaparição, a revelação e a cegueira. Um intervalo que acolhe as opacidades para abrir imagem e arte aos encontros ilimitados, mas que não cessa de confidenciar sua indeterminação e seus desajustes. A imagem (fotográfica) se afasta de suas concepções como projeção especular (que dá a ver a cópia de um original) ou como apenas um índice do real (que mantém com o referente uma contiguidade física e existencial). A imagem é uma articulação entre o que é acessível à visão e o que, a ela, se furta: a imagem convoca a instauração do olhar, bem como de seus limites, que aí se fazem visíveis. Vemos por enigmas, relacionamos por dissonâncias. Por isso a opção de Cupello por trabalhar com arquivos de imagens analógicas, álbuns e coleções de retratos antigos que adquire em feiras ou ganha de amigos. A artista as recorta, cobre ou extrai as figuras retratadas, costura, cola, molda, esculpe como um corpo extensivo, como totens ou pedras tumulares em arqueologias improváveis, espacializa no corpo arquitetônico. Um processo de montagem e edição próprio ao cinema de onde a artista provém.
Devolver a carne à imagem é também materializar os processos de sua produção e mediatização que permanecem invisibilizados. Dar corpo à sombra. Abrir a caixa preta e enganar o aparelho, como diria Vilém Flusser, autor caro à artista. Por isso, o processo de desmontagem e remontagem de tempos distintos em heterocronias, de lugares em heterotopias, de imagens-lampejos para percebemos o secreto parentesco, o difícil trabalho de perda e memória, esgarçando e separando as coisas e seres habitualmente reunidos e urdindo os laços de filiação em outras figuras, corpos e sombras. Ela cria, portanto, um abalo e um deslocamento no regime dominante dos modos de apresentar tais coisas e seres do mundo, de dar-lhes sentido, de interpretar as imagens. Um deslocamento: de tempos, lugares, sentidos, sensibilidades.
É assim que a vemos velar ou recortar as figuras nelas retratadas. Protege-as da superexposição, da cegueira ofuscante do brilho do espetáculo. Como em Pequenos Desertos, tiras de fotos costuradas com fios visíveis, nas quais as figuras foram recortadas deixando os vazios e as sombras projetadas dessa ausência presente. Ou como quando a artista incrusta as imagens entre pedras e lascas de cimento em dúbio movimento de aparição e desaparição, como se insistissem em sobreviver e aparecer entre as frestas (Ervas daninhas), ou como emblemas que sustentam e figuram uma coletividade perdida (Totens). O corpo do comum perdido é, por sua vez, trocado pelo corpo visual da imagem na série Lapidárium, fotografias sobrepostas na vertical em cujo dorso se formam palavras que atestam o esgarçamento de nossos laços sociais: Sós, 2021. Besta pública, 2021. Hemanos, sus hermanos, 2022.
Cupello não se vale apenas de arquivos fotográficos, mas também de objetos de seu universo, seus elementos adjacentes e residuais, sua materialidade indiciária, como os cadarços de antigos álbuns de retrato ou o papel de seda que separa suas páginas e cuja imagem o tempo fixou como um negativo, um espectro. Intitula-as Álbum de família e Escuro amor: as obras se conformam justamente nessa encruzilhada dos índices-rastros, do corpo-imagem (re)construído, da palavra que a nomeia.
De lá (estudos para Canyons), da série Virtualidades matéricas, é uma imagem feita a partir de centenas de fotos digitais realizadas em torno de uma cena formada por pilhas de velhas fotos analógicas. Canyons, essa paisagem enigmática, é também a sombra da passagem da imagem-índice para a imagem numérica da tecnologia digital; é a conjuração dessa passagem e dessa metamorfose.
Prumos opera no limite de sua invisibilidade: são tiras finas de fotos de olhos, coladas e fixadas no teto por linhas e mantidas na verticalidade pelo peso de pedras. É como se o próprio espaço fosse sólido, como se o ar invisível que o preenche fosse fatiado e, das frestas que resultam do corte e da ferida em sua carne translúcida, miríade de olhos nos espreitassem. Para respondermos ao olhar da imagem, é preciso que nosso corpo se aproxime para discerni-las. Uma troca de olhares de corpos afetivos e desejantes, na conjunção entre sentido e carne, capaz de reverter a mera vigilância? Interrogação que guarda nossas sombras, mas também nossos sonhos e promessas.
// Marisa Flórido Cesar
-
vistas da exposição